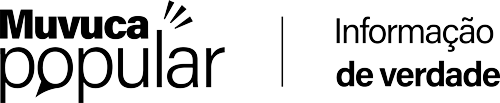O que dá a algumas pessoas o direito de dominar, ordenar e governar as outras?
Pelo menos desde a época de John Locke, a mais comum e aparentemente mais convincente resposta tem sido a do tal “consentimento do governado”.
Quando os revolucionários norte-americanos justificaram sua secessão do Império Britânico, dentre outras coisas eles falaram que “Governos são instituídos entre os Homens, derivando seus justos Poderes do Consentimento dos Governados”. Aparentemente, isso soou bem, especialmente se o indivíduo não pensar a respeito por muito tempo ou muito profundamente.
Porém, quanto mais profunda e demoradamente alguém se puser a pensar sobre o assunto, mais problemático ele se revela.
Várias perguntas imediatamente vêm à mente. Todas as pessoas devem consentir? Se não, quantas devem? E quais opções restam àqueles que porventura optam por não consentir? Qual deve ser o formato do consentimento — verbal, escrito, explícito ou implícito? Se implícito, como ele deve ser registrado? Dado que a composição da sociedade está em constante mudança — em decorrência de nascimentos, óbitos e migrações internacionais —, com qual frequência devem os governantes confirmar que ainda retêm o consentimento dos governados?
A legitimidade política, pelo que se pode ver, apresenta uma variedade de dificuldades quando saímos do âmbito das abstrações teóricas e partimos para a percepção prática.
Levanto essa questão porque, no que concerne ao chamado contrato social, frequentemente tive a chance de protestar dizendo que jamais havia visto tal contrato, muito menos havia sido consultado sobre meu consentimento quanto a ele. Para ser válido, um contrato requer oferta voluntária, aceitação e compensação. Como jamais recebi tal oferta de meus governantes, certamente jamais aceitei tal contrato; e, em vez de compensação, tudo que recebi dos meus governantes foram desconsideração, desrespeito e desdém — para não mencionar o fato de que os governantes, não obstante a ausência de qualquer acordo, sempre ameaçaram explicitamente me infligir grandes danos caso eu não obedeça aos seus éditos.
Mas que insolência monumental a dessa gente! O que lhes dá o direito de me roubar, de me perseguir e de me ameaçar? Certamente não é o meu desejo ser um cordeirinho que eles podem tosar e trucidar sempre que considerarem conveniente para a consecução de seus próprios fins.
Ademais, quando desdobramos a ideia do “consentimento do governado” em detalhes realistas, toda a noção imediatamente se torna completamente ilógica e absurda. Apenas considere como tudo iria funcionar. Um pretenso governante se aproxima de você oferecendo um contrato, esperando a sua aprovação. Eis o acordo, diz ele.
Eu, a pessoa da primeira parte (“o governante”), prometo:
(1) Estipular quanto do seu dinheiro você deve me entregar, bem como quando, de que maneira e para onde a transferência será feita.
Você não terá nenhuma voz ativa na questão, exceto implorar por minha clemência; e caso não cumpra meus ditames, meus agentes irão puni-lo com multas, aprisionamento, confisco de bens e, na eventualidade de uma obstinada resistência, até mesmo com a morte.
(2) Criar milhares e milhares de regras, às quais você deve obedecer sem questionar, novamente sob pena de sofrer as punições supracitadas, que serão instantaneamente ministradas por meus agentes.
Você não terá nenhuma voz ativa na determinação do conteúdo destas regras, as quais serão tão numerosas, complexas e, em vários casos, além de qualquer possibilidade de compreensão, que nenhum ser humano seria capaz de saber pouco mais do que um punhado delas, menos ainda seu caráter específico. Ainda assim, caso você não cumpra todas elas, sentir-me-ei livre para puni-lo de acordo com as leis criadas por mim e por meus aliados.
(3) Ofertar para você, de acordo com os termos estipulados por mim e por meus aliados, os chamados bens e serviços públicos.
Embora você realmente possa dar algum valor a alguns destes bens e serviços, a maioria terá pouco ou nenhum valor para você, e há alguns que você considerará totalmente abomináveis. Porém, sempre relembrando, você, como indivíduo, em nenhuma circunstância terá qualquer voz ativa sobre os bens e serviços que eu venha a fornecer, seja sobre a qualidade deles, seja sobre o custo total que sai do seu bolso para bancá-los.
(4) Na eventualidade de uma contenda judicial entre nós, os juízes — todos eles gratos a mim por seus empregos e magnânimos salários — é que decidirão como solucionar o litígio.
É claro que eu recomendo que você nem sequer se dê ao trabalho de fazer tudo isso, pois é de se esperar que você irá perder essa batalha; aliás, terá muita sorte caso consiga efetivar sua queixa em algum tribunal.
Em troca destes “benefícios” governamentais supracitados, você, a pessoa da segunda parte (“o governado”), promete:
(5) Ficar calado, não protestar, não questionar, obedecer a todas as ordens expedidas pelo governante e seus agentes, e prostrar-se em servidão diante deles como se fossem pessoas importantes e honrosas. Quando ordenarem “Pule!”, limite-se apenas a perguntar “Até que altura?”
Que negócio! Alguma pessoa que faça o mínimo uso de suas faculdades mentais aceitaria tal trato? Isso seria imaginável?
No entanto, a descrição acima do verdadeiro contrato social que, dizem, todos os indivíduos aceitaram é abstrata demais para capturar a crua realidade que é ser governado.
Para enumerar os reais detalhes, até hoje ninguém superou Pierre-Joseph Proudhon, que escreveu:
Ser GOVERNADO significa ser observado, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regulamentado, cercado, doutrinado, admoestado, controlado, avaliado, censurado, comandado; e por criaturas que para isso não têm o direito, nem a sabedoria, nem a virtude para fazê-lo.
Ser GOVERNADO significa que todo movimento, operação ou transação que realizamos é anotada, registrada, catalogado em censos, taxada, selada, avaliada monetariamente, patenteada, licenciada, autorizada, recomendada ou desaconselhada, frustrada, reformada, endireitada, corrigida.
Submeter-se ao governo significa consentir em ser tributado, adestrado, redimido, explorado, monopolizado, extorquido, pressionado, mistificado, roubado; tudo isso em nome da utilidade pública e do bem comum. Então, ao primeiro sinal de resistência, à primeira palavra de protesto, somos reprimidos, multados, desprezados, humilhados, perseguidos, empurrados, espancados, garroteados, aprisionados, fuzilados, metralhados, julgados, sentenciados, deportados, sacrificados, vendidos, traídos e, para completar, ridicularizados, escarnecidos, ultrajados e desonrados.
Isso é o governo, essa é a sua justiça e sua moralidade! (P.-J. Proudhon, Idée générale de la révolution au XIXe siècle)
Portanto, voltando à questão de a legitimidade política ser determinada pelo consentimento do governado, ao se fazer uma reflexão sóbria, toda a ideia de que há esse tal consenso parece ser tão extravagante e fantasiosa quanto o unicórnio. Ninguém em seu juízo perfeito, exceto talvez um masoquista irrecuperável, iria voluntariamente consentir em ser tratado como os governos de fato tratam seus súditos.
Mesmo assim, pouquíssimos de nós estamos, hoje, ativamente engajados em uma rebelião armada contra nossos governantes. E é exatamente essa ausência de uma sincera e total revolta violenta que, estranho de dizer, alguns comentaristas midiáticos tomam como evidência de nosso consentimento para com a maneira ultrajante com que o estado nos trata.
Uma condescendência relutante e prudencial, entretanto, não é a mesma coisa que consentimento, especialmente quando as pessoas, como eu, aquiescem fervendo em silêncio, mantendo latente sua furiosa resignação.
Só para constar, posso declarar com total sinceridade que eu não aprovo a maneira como sou tratado pelos mentirosos, ladrões, imorais e corruptos que se autoqualificam como sendo o governo, e nem por aqueles que constituem a tirânica pirâmide dos governos estaduais e municipais que infestam o país.
Meu desejo sincero é que todos esses indivíduos façam, ao menos uma vez em suas desprezíveis vidas, uma coisa honrosa: sugiro que considerem seriamente a prática do seppuku. Se eles vão utilizar uma espada afiada ou rombuda é o de menos; o que interessa é que tenham a dignidade de conduzir o ato até sua exitosa conclusão.
Um adendo sobra o “ame-o ou deixe-o”: sempre que escrevo as linhas acima, recebo inúmeras mensagens de vários Neandertais que, imaginando que odeio meu país, exigem que eu caia fora o mais rápido possível, e volte para de onde jamais deveria ter saído. Tais reações evidenciam não somente uma total falta de educação, mas também uma fundamental incompreensão acerca da natureza da minha queixa e do meu descontentamento.
Em primeiro lugar, posso afirmar que não odeio meu país, e nem teria motivos para tal, dado que não existe essa entidade chamada “país”; há apenas os indivíduos que residem dentro de determinadas fronteiras
Em segundo lugar, e ainda mais importante, por que sou eu quem tem de sair? Não estou agredindo ninguém, não estou roubando e nem espoliando ninguém, e não vivo à custa de ninguém. Por que sou eu, e não os agressores, quem tem de se mudar?
Quando sou convidado a me retirar e ir morar em outro lugar, sinto-me como alguém que mora em uma cidade que foi tomada por um bando de arruaceiros que deram a seguinte ordem: quem não gostar de ser roubado, ameaçado, intimidado e molestado por rufiões indesejados, que se mude para outra cidade.
Para mim, parece muito mais moralmente certo fazer com que sejam os criminosos aqueles que tenham de sair correndo.
Robert Higgs é o diretor de pesquisa do Independent Institute.