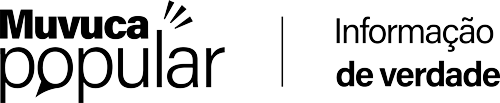Na semana passada, o New York Times noticiou um estudo “primeiro do tipo” que pretendia mostrar que uma “grande maioria” de “crianças transgêneros” continua a se identificar como transgênero cinco anos depois de começar sua “transição social”. De acordo com a investigadora principal do estudo , a psicóloga da Universidade de Princeton, Kristina Olson, apenas 2,5% das crianças rastreadas durante esse período reverteram para o sexo que foram “atribuídos no nascimento”. Outros 3,5% se identificaram como “não binários”, deixando 94% que persistiram em sua identificação de sexo cruzado.
Mas longe de apoiar a narrativa de que existem “crianças transgêneros” por aí que precisam ser “afirmadas” para desfrutar de “saúde mental” básica, o estudo de Olson na verdade apoia aqueles que criticam a prática de desfigurar e incapacitar sexualmente crianças como um meio de oferecer-lhes alívio temporário do sofrimento relacionado à puberdade – uma prática conhecida eufemisticamente como “cuidados de saúde de afirmação de gênero”.
Para seu crédito, o Times enfatizou uma limitação importante do novo estudo no que se refere às batalhas sobre a transição de gênero pediátrica: a coorte do estudo de Olson era composta principalmente de meninos que começaram a mostrar sinais de angústia relacionada ao gênero antes da puberdade – em outros palavras, a mesma população de pacientes para quem a transição médica foi originalmente destinada. Em contraste, a maior parte dos encaminhamentos para clínicas de gênero hoje em dia são adolescentes sem histórico de sofrimento relacionado ao gênero e com altas taxas de comorbidades de saúde mental, incluindo autismo, ansiedade e depressão. O Times até cita Laura Edwards-Leeper, uma das principais defensoras da terapia de afirmação de gênero que recentemente levantou preocupações sobre seu uso no cenário pediátrico, que diz que o novo estudo “não nos diz nada” sobre a maioria dos adolescentes que aparecem nas cerca de 300 clínicas de gênero em todo o país. Como as proibições estaduais de transição pediátrica são projetadas principalmente com essa nova coorte de pacientes em mente, é seguro dizer que o estudo de Olson é, na melhor das hipóteses, irrelevante para o debate sobre essas leis.
O que o Times não diz a seus leitores é que as altas taxas de comorbidades de saúde mental entre os encaminhamentos de adolescentes criam um potencial para “ofuscamento diagnóstico”. Isso acontece quando os praticantes interpretam erroneamente um dos vários sintomas concomitantes como a causa dos outros. Em termos simples, uma adolescente pode expressar sua angústia de maneiras de gênero – por exemplo, insistindo que ela é realmente um menino. Mas se a “identificação” de gênero cruzado não for a causa de sua angústia, então usar suas proclamações para justificar a intervenção hormonal e as cirurgias não resolverá seus problemas e provavelmente os tornará piores.
Ainda não está claro se as duas coortes de pacientes do estudo de Olson – meninos nascidos com sintomas de início precoce e meninas adolescentes com sintomas de início tardio – pertencem à mesma categoria diagnóstica de “disforia de gênero”. Embora ambos apresentem sintomas semelhantes, estes podem refletir diferentes etiologias, ter diferentes vias de desenvolvimento e prognósticos e responder a diferentes protocolos de tratamento.
O problema mais profundo aqui é que a psiquiatria, desde a década de 1980, mudou constantemente da classificação e do diagnóstico baseada na etiologia para a baseada nos sintomas. Nos ramos da medicina que lidam com o corpo, acharíamos absurdo e perigoso se os médicos diagnosticassem e tratassem os pacientes com base apenas em seus sintomas. Os médicos prescreviam quimioterapia para pacientes com fadiga, cólicas estomacais e vômitos constantes (sintomas de câncer de cólon), mesmo que a verdadeira causa de seus sintomas fosse, digamos, ansiedade crônica relacionada ao trabalho.
A dificuldade inerente de entender as causas do transtorno mental e as abordagens teóricas divergentes para essa questão que surgiram na psiquiatria ao longo do século XX levaram os líderes da área a negociar um compromisso. “Ao fornecer descrições claras e explícitas dos critérios diagnósticos”, escreve Richard McNally, professor de psicologia de Harvard, a abordagem baseada em sintomas “permitiu que clínicos e pesquisadores de diversas convicções teóricas – psicodinâmicas, cognitivas, comportamentais e biológicas – concordassem, pelo menos em princípio, se alguém se qualificava para um determinado diagnóstico, mesmo que não podia concordar sobre suas causas.” Em suma, a psiquiatria baseada em sintomas representa um esforço pragmático para alcançar uniformidade em todo o campo, mas o faz, argumentam os especialistas, com grandes custos. “O conceito de transtorno mental”, relata McNally, “implica que algo interno à psicobiologia da pessoa não está funcionando adequadamente”. Mas a ênfase atual da psiquiatria nos sintomas em detrimento das causas aumenta “o risco de classificar as pessoas como desordenadas cujo sofrimento não decorre de doença mental”.
A transição de gênero pediátrica ilustra as desvantagens agonizantes da psiquiatria baseada em sintomas. Os médicos estão agora dando bloqueadores da puberdade, hormônios do sexo cruzado e cirurgias para adolescentes sem histórico de sofrimento relacionado ao gênero simplesmente porque apresentam sintomas semelhantes aos observados nos meninos pré-adolescentes nos estudos holandeses originais da década de 1990. O fato de as meninas começarem a se apresentar por volta da puberdade (enquanto a maioria dos meninos desiste por volta dessa época) e de chegarem às clínicas de gênero muitas vezes após isolamento social prolongado e exposição às mídias sociais são pontos contextuais cruciais. Eles podem sugerir que a “disforia de gênero” no caso das meninas é resultado de contágio social – e, portanto, uma fase temporária. Os médicos que se concentram apenas nos sintomas tendem a ignorar esses fatores de confusão.
A população de pacientes que Olson e seus colegas acompanharam era composta de crianças que começaram a “transição social” em média entre seis e sete anos, que foram apoiadas nessa transição e que ainda estavam “se identificando” como o sexo oposto no início da puberdade. cinco anos depois. A principal falha do estudo é que ele não considera que a “transição social” pode contribuir para a persistência da disforia de gênero – algo que os pioneiros holandeses da transição de gênero pediátrica, bem como a recentemente publicada Cass Review estudo da Clínica Tavistock do Reino Unido, ambos enfatizaram. Em outras palavras, o estudo de Olson trata da prática de dar um novo nome às crianças, usando pronomes e palavras como “filho” e “filha” de acordo com o sexo oposto, vestindo-as com esse sexo e incentivando-as a se envolverem em atividades convencionalmente associada a esse sexo, como mero suporte de fundo e não como uma forma ativa de intervenção no desenvolvimento psicossocial da criança.
Considerando o quão impressionáveis as crianças são, quão suscetíveis às mensagens dos adultos em suas vidas, e quão investidas elas e esses adultos muitas vezes se tornam na manutenção da identidade transgênero, é de se admirar que a grande maioria das crianças no estudo de Olson continuasse se percebendo como “trans” cinco anos depois? De fato, a descoberta mais impressionante é que 2,5% dessas crianças conseguiram voltar a se “identificar” como seu sexo biológico. Imagine a coragem necessária para um menino de 11 anos dizer a seus pais, professores e psicólogo: “Acho que estava errado. Acho que vocês estavam todos errados.”
Olson e seus coautores poderiam ter projetado seu estudo com controles – por exemplo, comparando um grupo de crianças que passaram por transição social precoce com um grupo com perfis psicológicos semelhantes que não passaram por transição social. Se o primeiro grupo fosse muito mais propenso a adotar bloqueadores da puberdade e injeções de hormônios sexuais cruzados, isso sugeriria que a transição social não é um tratamento, mas sim uma causa de disforia de gênero persistente. “Afirmar” essas crianças seria, portanto, bloquear uma “identidade” que, de outra forma, poderia ter se mostrado temporária.
O estudo de Olson provavelmente se tornará o marco zero em uma guerra de narrativas. Os progressistas, em particular aqueles nas profissões de saúde mental, se referirão a isso como evidência de que os médicos são notavelmente bons em distinguir crianças transgênero daquelas cuja inconformidade de gênero é apenas uma fase passageira. Os formuladores de políticas progressistas o citarão como confirmação de que as políticas de afirmação de gênero são benéficas e necessárias nas escolas K-12.
Os críticos da medicalização das inocentes confusões e brincadeiras da juventude não devem, no entanto, fugir do estudo de Olson simplesmente porque os progressistas acreditam que ele apoia sua posição. Pelo contrário: eles devem divulgar o estudo em todas as oportunidades, explicando como ele fornece mais evidências de que a terapia de “afirmação de gênero” cria ou prolonga o próprio problema que pretende resolver.
No final deste mês, o Departamento de Educação do governo Biden planeja lançar suas propostas de regulamentos do Título IX, que provavelmente reintroduzirão as diretrizes da era Obama sobre como as escolas devem lidar com alunos que rejeitam seus corpos e desejam ser identificados como do sexo oposto. Esses regulamentos são tecnicamente enquadrados como medidas de “direitos civis”, o que significa que eles são fundamentalmente sobre fazer com que as escolas não façam distinções arbitrárias entre os alunos. Mas nem o governo Obama nem os tribunais federais fizeram um esforço real para explicar por que é arbitrário distinguir meninos biológicos de meninas biológicas que se autoidentificam como meninos. Em vez disso, o argumento era que tais distinções prejudicam a auto-estima e, portanto, a “saúde mental” de meninas identificadas como meninos.
As regulamentações federais e estaduais destinadas a mudar a forma como as escolas classificam os alunos usam a retórica dos direitos civis, mas na verdade pressionam os funcionários da escola para facilitar e até desempenhar um papel ativo nas transições sociais dos alunos. Os críticos da transição pediátrica devem continuar defendendo que a transição social é uma forma de intervenção direta, não um apoio neutro. E eles podem usar o estudo de Olson para reforçar seu caso.
Leor Sapir é Ph.D. em Ciência Política pelo Boston College. Seus trabalhos investigam como a cultura política dos Estados Unidos e o governo constitucional moldam a política pública em questões de direitos civis, explorando uma série de decisões judiciais recentes em torno do transgenerismo, demonstrando como ideias ruins se traduzem de teorias acadêmicas marginais em direito e política.