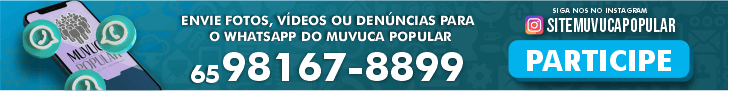Um general britânico, Sir Richard Sherriff, disse que a Grã-Bretanha tem tão poucos soldados voluntários que, na situação atual, deveria treinar e equipar um exército cidadão. Um coronel reformado disse pouco antes que um retorno do alistamento militar poderia ser necessário. Desejo sorte a ambos com seus esquemas: eles vão precisar disso.
Entre isenção médica por razões psiquiátricas, objeção de consciência e processos por discriminação, duvido que mais de 1% dos recrutados acabaria no exército, e uma boa proporção desses poucos provavelmente seria inútil.
O que hoje é comumente chamado de problemas de saúde mental se tornaria ainda mais prevalente do que já é, sendo os médicos pusilânimes demais para se recusar a fornecer os atestados médicos necessários a todos aqueles que os desejam. Além disso, quem pode provar que alguém não é mentalmente inapto para algo? Na Inglaterra agora, não é incomum ouvir pessoas afirmando que sofrem de saúde mental, o que significa que elas têm, ou afirmam ter, ou se comportam como se tivessem, um transtorno psiquiátrico, conforme definido no Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria (Quinta Edição), segundo o qual praticamente todo pensamento ou conduta humana é patológico – em comparação com o de camundongos ou coelhos, talvez.
Mas a verdadeira dificuldade que impediria tais esquemas seria que ninguém mais acredita que o país tem o direito de se defender, por causa de seu passado lamentável. Estou longe de ser um militarista beligerante e sou temperamentalmente inadequado para a vida militar: mas há circunstâncias em que estaria disposto a lutar e, de fato, consideraria que era meu dever fazê-lo. A guerra é um inferno, certamente, mas pode haver momentos em que não travá-la é pior.
Muitas vezes me pergunto se teria me juntado na Primeira Guerra Mundial, a mais catastrófica das catástrofes, e acho que teria feito isso. Duvido que tivesse caído na propaganda patriótica tosca da época, mas quando vi tantos dos meus concidadãos a sacrificarem-se, penso que não teria podido manter-me alheio; Eu teria me sentido obrigado a fazer a minha parte, mesmo que a causa pela qual lutamos estivesse longe de ser óbvia. Devia também ter admirado um objetor de consciência como Bertrand Russell, que foi para a prisão em vez de participar no massacre geral: teve de pagar um preço pela sua opinião e estava disposto a pagá-la. Ele demonstrou uma coragem moral considerável, muito maior do que a das pessoas que se juntaram principalmente porque tantos outros o fizeram.
A objeção de consciência moderna seria diferente. Derivaria não de um pensamento moral sério, mas de uma justiça própria e narcisismo rasos e preconceituosos – com a covardia provavelmente lançada. Quando vi relatos de longe das manifestações contra o Dia da Austrália, pensei que a Austrália também poderia agora ter dificuldades em levantar um exército de qualquer tamanho, se a necessidade surgisse.
Embora os relatórios mencionassem que milhares haviam participado dessas manifestações, eles não mencionaram que milhões não participaram. De certa forma, eles tinham razão em não mencioná-lo, porque vivemos em um mundo em que guerras ideológicas assimétricas são constantemente travadas, com um número relativamente pequeno de fanáticos e monomaníacos de um lado, e pessoas mais equilibradas, para quem a questão é apenas uma coisa entre muitas outras, do outro lado. Nestas circunstâncias, os números não contam. Um fanático vale mais que mil pessoas normais; ele continuará até conseguir o que quer, aborrecendo a oposição para se render. Ceder a ele é a única maneira de calá-lo.
As manifestações contra o Dia da Austrália me chocaram com sua desonestidade. Sem dúvida, a Austrália tem seus defeitos, mas pelos padrões da história humana – os únicos padrões pelos quais pode ser julgada – é um país notavelmente bem-sucedido. Baseia-se numa versão da democracia parlamentar britânica e da lei britânica e conseguiu dar aos seus cidadãos mais liberdade do que 99% das políticas humanas que já existiram, ao mesmo tempo que lhes garantiu um dos mais elevados padrões de vida do mundo. Não resolveu todos os problemas da existência humana, mas nenhum país vai fazer isso. A chegada da Primeira Frota foi obviamente essencial para a conquista australiana.
A questão aborígene, é certo, é como uma ferida na carne moral do país. O contato entre uma população nômade, caçadora-coletora e uma civilização muito mais avançada, nunca seria fácil de organizar de tal forma que nenhum sofrimento humano resultasse, e raramente na história humana populações inteiras se comportaram com perfeita justiça. Mas a dificuldade do problema desafiava uma solução fácil, e não é que nunca tenham sido feitos esforços bem intencionados, mesmo que por vezes tenham sido mal orientados, ou mesmo que alguns esforços não tenham sido bem intencionados.
Por exemplo, há alguns anos compartilhei uma plataforma em Adelaide com uma assistente social que dizia que os aborígenes não deveriam ser ensinados a ler e escrever porque não fazia parte de sua cultura fazê-lo. Uma vez que não sugeriu que fossem simplesmente deixados à sua sorte no interior mais remoto, estava de fato a sugerir que ficassem totalmente dependentes da discrição de pessoas como ela. Embora imaginasse que estava a ser generosa e abrangente, não era difícil ver a sede de poder no que dizia.
Havia muita grandiosidade moral à vista nas manifestações, bem como a habitual companheira da grandiosidade moral, a hipocrisia. Ao contrário de Bertrand Russell, os manifestantes não arriscavam nada com as suas palavras de ordem; não imaginaram por um momento que poderiam ter algo a perder com sua postura; eles até pareciam muito satisfeitos consigo mesmos. Quando alegaram que a Austrália sempre pertenceu e sempre pertenceria aos aborígenes, não se ofereceram para voltar aos países de onde vieram seus antepassados. Eles não esperavam seriamente ter que viver como aborígenes pré-contato (com uma expectativa de vida, aliás, de menos de trinta e cinco anos, com muita morte por violência); Eles provavelmente teriam considerado a ausência de escolha de restaurantes como o pior destino que poderia acontecer a qualquer um, incluindo a si mesmos.
Talvez a cena que mais me irritou foi a captada no site da Al Jazeera, de mulheres australianas de classe média segurando no alto faixas com a bandeira aborígene (para os puristas que exigem autenticidade cultural, a mais grosseira das invenções) e a palestina, com um slogan insistindo que tanto a Austrália quanto a Palestina sofreram a mesma colonização. “Nenhum orgulho no genocídio”, dizia outro slogan em uma faixa, erguida pelos supostos beneficiários do chamado genocídio australiano.
A sátira não conseguia captar isso: essas mulheres, com suas expressões de seriedade auto-satisfeita, na verdade apoiavam uma cultura de violação em massa, ao mesmo tempo que, sem dúvida, se consideram feministas, ao mesmo tempo que, de fato, apoiam um dos únicos movimentos no mundo que declara abertamente o genocídio como política, ao mesmo tempo que pensam que estão a protestar contra o genocídio. A consciência da ironia não é uma caraterística da nossa época.
Não estou certo de que possa explicar completamente a determinação de algumas das pessoas mais privilegiadas e afortunadas que já viveram para persuadir a si mesmas (e aos outros) de que existem em uma espécie de inferno moral do qual é seu dever redimir-se (e aos outros), em vez de simplesmente trazer pequenas melhorias como podem. Eles são a imagem-espelho do tipo de pessoa que no passado teria acreditado que seu país era o melhor do mundo e, portanto, não poderia fazer nada de errado. Há uma atração pelos superlativos, mesmo que seja pelos superlativamente ruins.
Basta dizer que a crença de que o nosso país é tão fundamentalmente mau que não tem o direito de existir dificilmente conduz a uma determinação de defendê-lo, se necessário, com a própria vida. Se alguma vez houvesse um momento em que outros estivessem dispostos a atacá-lo, também se necessário com suas vidas, o país ficaria indefeso, pelo menos se a crença em questão fosse generalizada.
O australiano é apenas um caso especial da perda de confiança da civilização ocidental em relação ao resto do mundo. É detectável na Europa e nos Estados Unidos. Estranhamente, essa perda de confiança é também, simultaneamente, uma atitude de grandiosidade moral, segundo a qual foi finalmente encontrada uma verdade moral indubitável. Para além do seu absurdo, esta atitude não é mais agradável de ver do que o chauvinismo.
Theodore Dalrymple é médico psiquiatra e escritor. Aproveitando a experiência de anos de trabalho em países como o Zimbábue e a Tanzânia, bem como na cidade de Birmingham, na Inglaterra, onde trabalhou como médico em uma prisão, Dalrymple escreve sobre cultura, arte, política, educação e medicina.